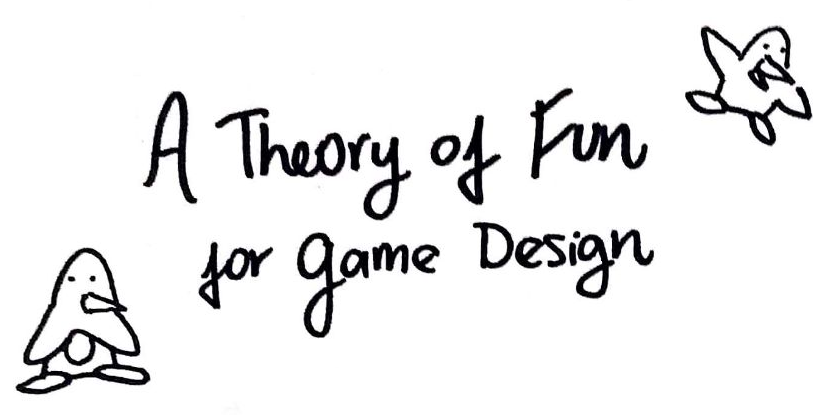
Livro: A Theory of Fun for Game Design
Autor: Raph Koster
Ano: 2004 (eu li a 2ª edição, de 2014)
TL;DR: Um livro curto e amigável que abrange um monte de assuntos relacionados à cultura de jogos, e brilha quando fala sobre que as intenções de um game designer. Recomendado para game designers com alguma experiência (mas não tanta).
qual a moral do livro?
Todo livro de game design começa com um “o que são jogos”, e A Theory of Fun não é diferente. Porém, é o primeiro livro que eu leio em algum tempo que não menciona leoas e a savana africana.
Em AToF, a resposta para a sagrada pergunta está fortemente conectada à titular teoria da diversão, que na verdade é estabelecida primeiro. Para Koster, diversão é a resposta emocional ao aprendizado, e portanto jogos são divertidos pois são bons em ensinar padrões aos jogadores. É uma ideia que Koster fundamenta em conceitos de psicologia cognitiva que me são bastante familiares1, de modo que o começo do livro quase parece uma introdução suave às ideias de memória e chunking.
Depois de tirar isso do caminho, Koster passa para a carne graúda do livro: capítulos não-práticos que abordam diversos aspectos da cultura ao redor de jogos. Se o que eu disse parece vago, é porque é mesmo: em um capítulo estamos analisando “por que pessoas jogam?”, em outro “como jogos se encaixam no contexto maior das atividades humanas?”; ou então “o que significa fazer jogos com ética?” e “qual é o futuro dos jogos?”. Pode parecer meio desconexo, mas não é a sensação que me passa - Koster não está tentando criar nada gigantesco em cada capítulo, sua abordagem é mais de encaixar coisas que já foram ditas com as suas ideias sobre diversão, e falar algumas opiniões centrais que ele tem sobre esses assuntos.
Ele não se aprofunda em muita coisa: o livro é curto, com pouco menos de 250 páginas - metade delas sendo ilustrações. Essa combinação de superficialidade e abrangência pode acabar frustrando alguns leitores, mas pra mim foi tão prazeroso quanto conversar depois da aula com um professor agradável, que passa horas a fio falando apaixonadamente sobre isso e aquilo. O tom de Koster e seu caminhar pelos assuntos me passam a mesma sensação subcutânea de casualidade, paixão e academicismo.
Às vezes, esses professores começam a se exaltar e soltam algumas pérolas que você leva pra sua vida. Felizmente Koster me proporcionou um ou outro desses momentos - em particular quando ele fala sobre as intenções de um game designer, e começa a soar como se fosse um manifesto. Os pontos em si certamente não são inovadores (esse livro é Fundamental e originou parte d’O Discurso), mas o jeito que ele escreveu as palavras tudo me pegou emocionalmente despreparado. Tais pontos fazem esse livro entrar pra minha lista de “Pra Quando Você Perder A Esperança Em VideoGames”, que também inclui a talk do Koster, “Practical Creativity”.
Apesar de Fundamental, eu discordo daqueles muitos que recomendariam AToF para iniciantes em game design. Por ser mais valioso como um compasso moral, o vejo sendo mais útil para game designers com alguma experiência, aos quais a ausência total de conselhos práticos não vá fazer falta. É quase uma questão da hierarquia de necessidades de Maslow: pra falar sobre que tipos de jogos devem ser feitos, é preciso saber fazer algum jogo. Por isso, para iniciantes eu continuaria recomendando Challenges for Game Designers.
p.p.i. (pontos pessoalmente interessantes)
1) o que jogos deveriam ensinar
Koster diz: o cérebro humano funciona reconhecendo padrões e aglomerando/automatizando atividades. Até aí tudo bem, isso bate com outras coisas que li 1. Ele continua: jogos, por sua vez, são particularmente bons em ensinar padrões a jogadores, por poderem apresentar desafios graduais e oferecerem um ambiente controlado para o jogador experimentar. Beleza, esse argumento vai nas mesmas linhas do sonho de Crawford: “jogos têm o potencial de ensinar melhor pois são interativos, e ensinar mais pois são escaláveis”2.
Mas o que jogos devem ensinar? Segundo Koster (cap. 4), jogos normalmente ensinam as mesmas coisas: visão espacial (Tetris), coordenação motora (first person-shooters), timing (jogos de ritmo) e gerenciamento de recursos (Civilization), entre outros. Essas não são coisas muito úteis de se ensinar - a menos que sejamos homens das cavernas. A questão levantada por ele é: será que não poderíamos fazer jogos divertidos que ensinassem coisas mais adequadas à sociedade atual, como empatia e comunicação?
É uma pergunta interessante. Me faz lembrar, entre lamentos, que a popularidade de Minecraft resultou não em uma enxurrada de jogos sobre criatividade, mas de survivals open-world.
Talvez jogos não sirvam muito bem pra ensinar essas coisas, e estejam para sempre fadados a representarem conflitos violentos.
Crawford3 argumenta que conflito é essencial a jogos, e que “violência é comum em jogos por ser a expressão mais óbvia e natural de conflito”. Mas e se não for apenas a expressão mais óbvia e natural, mas também a melhor? E se não for possível fazer um jogo divertido sobre amizade? Essa é a pergunta triste. A resposta de Koster é, ao fim do livro: precisamos ao menos tentar.
Eu acho essa argumentação bastante elegante, em particular porque me dá uma lente pra apreciar alguns dos meus jogos favoritos: Minecraft ensina criatividade, Getting Over It ensina persistência, Dark Souls ensina atenção. Sabe, às vezes você só lê algo meio bobo e simples, mas que reorganiza o que você pensa de uma forma agradável. Foi o que eu senti.
2) o que jogadores buscam em jogos
Outro ponto interessante é “o que jogadores buscam em jogos”. No cap. 3, Koster diz que um jogo é divertido pois ensina coisas novas; quando o jogador aprende tudo, o jogo deixa de ser divertido e se torna entediante. Portanto, o jogador o abandona. Isso me deixou furioso, pois central à minha experiência com jogos é que frequentemente me vejo persuadido a jogar bem além do ponto em que o jogo se tornou “entediante”.
Essa discussão é longa, e pretendo escrever algo sobre isso, mas me sinto compelido a fornecer uma ideia geral. Quando joguei Breath of the Wild, boa parte das minhas memórias são das primeiras 10 horas de jogo - quando aprendi coisas novas e surpreendentes, como a mecânica de cozinhar, a interação entre fogo e vento, as mudanças climáticas, os Koroks etc. Depois disso, tudo foi praticamente só iteração em cima do que eu já havia aprendido. Segundo Koster, eu deveria ter ficado entediado e parado de jogar, pois o jogo não me apresentava novos aprendizados; porém, eu só parei de jogar com 50 horas. O que aconteceu?
Alguém pode argumentar que eu aprendi coisas novas, pois explorei o mapa e descobri NPCs, shrines e dungeons. Mas todas as dungeons, shrines e NPCs seguem o mesmo formato, então podemos dizer que realmente aprendemos alguma coisa nova? Não, eu continuei jogando não porque estava me divertindo, mas porque eu estava confortável. A brisa pela planície de Hyrule me afagava e eu me sentia poderoso naquele ambiente, como se estivesse recebendo uma massagem de um gigantesco monstro de veludo. As horas passaram mais rápido - deveras, eu estava inconsciente 1 - e tudo era reprise, mas eu continuei jogando. Será que eu sou o único que passou por essa experiência?
Duvido muito. Evidente que não há nada de errado nesse tipo de jogo, mas na minha mais humilde opinião, boa parte dos jogos AAA de hoje em dia são assim: feitos para persuadir o jogador a continuar jogando, estendidos artificialmente para oferecer hundreds of hours of content, como aqueles dinossauros que crescem quando a criança os joga na água.
Essa é a ideia geral. Por isso quando Koster diz que “o jogador abandona o jogo” me deixa tão furioso, não não abandona não, será que você nunca foi afagado pelo veludo, Koster? Para minha surpresa ele volta atrás nessa alegação no cap. 8, quando afirma que “pessoas são preguiçosas”, e que existem jogadores que não querem inovar e usam jogos para fulfill power fantasies. Eles são todos assim Koster. Só Minecraft se salva.
3) mecânicas como essência
A minha maior discordância com o livro é quando Koster diz que “se um jogo não é divertido com formas geométricas, há algo de errado nele”. Eu não sei o quão sério ele quis ser com esse ponto - talvez ele queira “entortar a barra pro outro lado”, já que certos game designers copiam as mecânicas de outros jogos sem pensar profundamente no que elas significam -, mas quando ele diz que gráficos, música e narrativa são “condimentos” (dressing), a certeza da afirmação me assusta. Seria Mario divertido sem som e sem gráficos, apenas com formas geométricas?4. Acho que não; sinto que seria difícil até mesmo julgar se aquele protótipo deveria ser levado adiante. Feedback é algo essencial ao gameplay, e isso muitas vezes depende diretamente do “game feel” - uma combinação de cues audiovisuais. Como ignorar isso tudo e afirmar que a mecânica deve ser divertida sozinha?
-
isto é, quando ele imita o gatinho. ↩
-
“The Art of Computer Game Design” (cap. 1) ↩
-
seria um experimento interessante - “jogos clássicos sem gráficos” ↩